Folha de S.Paulo
Autor: Christian Dunker*
Há 40 anos começamos a popularizar uma nova concepção sobre os transtornos mentais entendidos como síndromes (signos patológicos sobrepostos), que perturbam as funções psíquicas (como cognição, memória ou vontade), associados com disfuncionamentos sociais (prejuízos à esfera amor, trabalho e aprendizagem).
Reações em acordo com expectativas culturais, por exemplo, diante de acontecimentos como perda e luto, assim como comportamentos políticos, religiosos e sexuais não são considerados transtornos mentais. O leitor deve ter notado que esta definição não faz nenhuma alusão à causalidade nem ao sofrimento como critérios para dizer que estamos diante de um transtorno.
Essa ideia de que os transtornos são convenções estatísticas ajuda a entender por que entre 1968 e 2015 descobrimos 115 novos transtornos mentais. Tacitamente se infiltrou no discurso popular a ideia de que as doenças mentais são, no fundo, doenças cerebrais, derivadas da ausência ou redução de neurotransmissores, como a serotonina ou a dopamina, que podem ser repostos com a medicação correta. Gradualmente, nos acostumamos com essa teoria do transtorno mental como uma espécie de diabete cerebral, uma doença crônica, que exige medicação permanente, que tem uma origem genética, que requer controle e uma certa educação ou disciplina alimentar ou corporal. Uma teoria irmã dizia que a dependência química requer uma guerra às drogas e a disciplina da abstinência, pois as substâncias psicoativas ilegais geram uma dependência cerebral.
Os achados das neurociências são incríveis e avançam no entendimento de determinações de comportamento e emoção. Não há nada de errado com eles, e nenhuma teoria psicoterapêutica que se queira justificável deveria lhes ser indiferente.
Ocorre que, junto com a teoria da diabete mental, veio um efeito colateral tremendamente pernicioso: a concepção de que o transtorno mental é indiferente ao modo como falamos sobre ele. Para essa teoria, a forma como interpretamos e ligamos a aparição de sintomas com nossa vida, pregressa ou futura, não passa de um epifenômeno sem valor etiológico.
A teoria das causas cerebrais, ideologicamente exagerada, passou gradualmente a ironizar tudo o que se relacionava com a forma de vida do sujeito, compreendida como unidade entre linguagem, desejo e trabalho; como uma herança freudiana, anticientífica, dependente da crença em conflitos interiores e outras disposições morais baseadas na boa-fé e na força de vontade.
O discurso que interpretava de forma diferencial certos sintomas em detrimento de outros (a depressão em vez da mania, por exemplo), as narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu “lugar de fala” diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos que não alteram a rota do que devemos fazer: correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação exata.
Quarenta anos depois acordamos em meio a uma crise global de saúde mental, com elevação de índices de suicídio, medicalização massiva, receitadas por não psiquiatras, e insuficiência de recursos humanos ou equipamentos teóricos e clínicos para enfrentar o problema.
Este é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem necessárias para que enfrentemos o sofrimento antes que ele evolua para a formação de sintomas. Este é o desserviço dos que imaginam que teatro, literatura, cinema e dança são apenas entretenimento ideológico e acessório —como se a ampliação e diversidade de nossa experiência cultural não fosse o ponto central para desenvolver capacidade de escuta e habilidades protetivas em saúde mental. Como se eles não nos ensinassem como sofrer e, reciprocamente, como tratar o sofrimento no contexto coletivo e individual do cuidado de si.
O empobrecimento da capacidade de contar sua própria história, de entender a lógica de seus conflitos e de nomear a recorrência de seu mal-estar não é apenas uma perda para a riqueza do espírito ou para a formação de personalidades mais sensíveis —é um desprezo arrogante e um desperdício descabido com os meios elementares de profilaxia básica em saúde mental.
(*) Christian Dunker é Psicanalista, é professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP
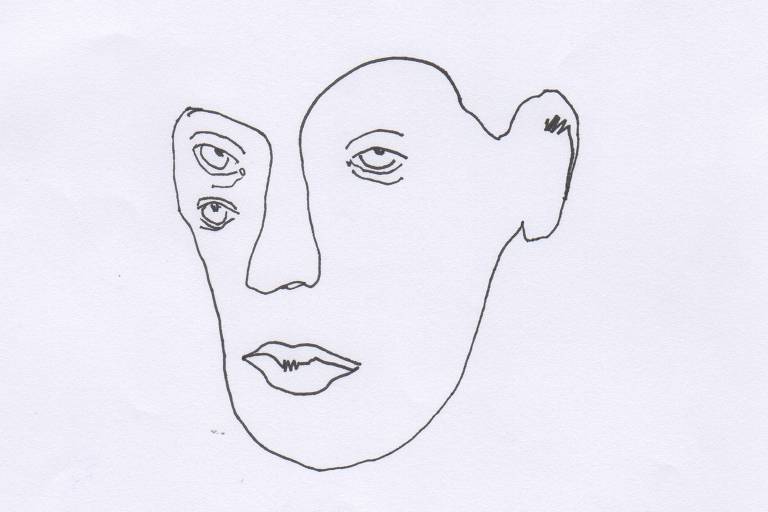
Comentários